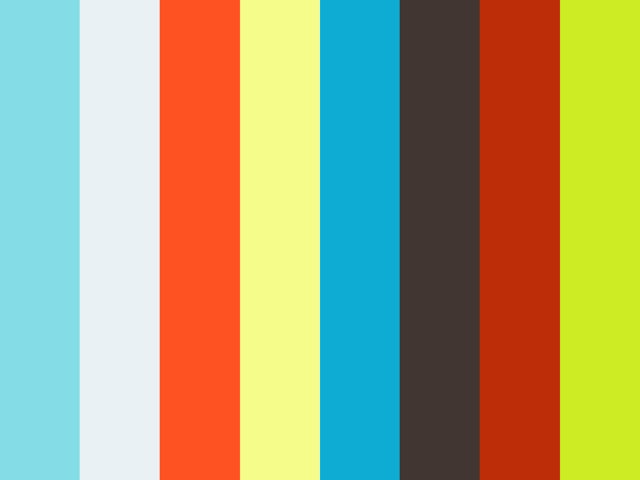A invisibilidade dos monumentos, Cult 197 | dezembro de 2014


"A invibilidade dos monumentos"
L.Danziger
publicado em Cult, n. 197, dezembro de 2014
dossiê “A arte como inscrição da violência”
organização: Márcio Seligmann-Silva
No dia 20 de outubro de 2014, o monumento a Zumbi dos Palmares, na Praça Onze no Rio de Janeiro, amanheceu pichado como inúmeras vezes nos últimos anos. A triste novidade foi o símbolo nazista, a cruz suástica inscrita na testa da figura de bronze. Ao que tudo indica, a escolha do símbolo pelos pichadores não sinaliza o pertencimento a um possível grupo neonazista. O gesto de barbárie foi assumido como ignorância pelos autores e parece indicar um agregado de perversidade simbólica ao desejo de demonstrar poder. O símbolo pichado no monumento, situado no bairro que viu o samba nascer, distancia-se de sua carga histórica e é utilizado como aposta em sua potência máxima de agressão. Fato é que nos últimos anos, o monumento a Zumbi dos Palmares vêm sendo pichado na proximidade do dia da consciência negra – 20 de novembro – escolhido por ter sido o dia do assassinato do líder quilombola ocorrido em fins do século XVII. O monumento a Zumbi existe no espaço da cidade desde 1986, enquanto o monumento temporal – o feriado – instituiu-se em nosso calendário ao longo de um processo iniciado em 1971, mas oficializado apenas em 2011. O curioso é que por caminhos tortos – e totalmente condenáveis no que diz respeito à suástica – diferentes pichadores vem trazendo regularmente o monumento de Zumbi aos jornais na proximidade do feriado, produzindo uma comemoração negativa que confere à obra curiosa visibilidade, carregando-a de signos contraditórios, suscitando protestos e reflexões.
Em 1927, o escritor austríaco Robert Musil observava, com humor e ironia, que não havia nada mais invisível do que os monumentos públicos. Referia-se aos monumentos tradicionais, produzidos pela cultura histórica do século XIX, tão criticada por Nietzsche em suas Considerações Intempestivas sobre a História. Desde as últimas décadas do século XX, vemos surgir uma nova prática de obras públicas, que procuram instalar dispositivos espaço-temporais que não encubram a cidade com formas e monumentos tradicionais e sim a desvelem, abram espaços, visadas, horizontes, propiciem mediações, passagens e limites (muitas vezes de modo temporário) ou ainda inscrevam datas, nomes e senhas, na cidade há tempos compreendida como um inesgotável texto. Se o monumento carioca a Zumbi escapa à lógica dos (anti)monumentos contemporâneos, tampouco se inscreve na prática dos monumentos tradicionais. A obra surgiu como resposta a um anseio efetivo de parcelas da população carioca, mas se materializa a partir de decisões de Darcy Ribeiro, transmutado em artista, como bem apontou Roberto Conduru em seu ensaio “Zumbi reinventado”.
Situada no canteiro central da Avenida Presidente Vargas, cujo trânsito é sempre intenso, a obra parece ter sido idealizada para ser vista à distância, por quem cruza a região de carro ou ônibus. Nenhum elemento do entorno urbanístico convida o pedestre a estar ali, embora nada impeça sua presença. Fincada sobre uma base piramidal, a cabeça de nosso Zumbi carioca é a ampliação de uma figura de 36 centímetros proveniente da região de Ifé, atual Nigéria, e representa Oni, o rei de Ifé, do povo iorubá. A peça, adquirida pelo Museu Britânico em 1939, foi ampliada por decisão de Darcy Ribeiro, então vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, e essa operação “transforma Zumbi, que provavelmente foi descendente dos bantos de Angola, em um iorubá filiado à linhagem real. De guerreiro, ele chega a ser rei (...)”. Em seu ensaio, Conduru conduz um importante questionamento sobre os ideais de beleza que orientaram a escolha da escultura que dá origem ao monumento e afirma: “Ao resumir o líder de Palmares a uma cabeça e exibi-la em praça pública, estaria ele [Darcy Ribeiro] repetindo o gesto com o qual os algozes portugueses quiseram demonstrar como era falsa a lenda corrente no final do século XVII acerca da imortalidade de Zumbi? Neste sentido, o Zumbi da Praça Onze também seria um troféu, ou melhor, um duplo troféu, ao conectar a preponderância europeia sobre os povos africanos em geral à escravização dos negros no Brasil pelos portugueses em particular.” Apesar do questionamento, Conduru afirma que Darcy Ribeiro “não pretendeu produzir um símbolo da dominação luso-ocidental, pois o antropólogo se engajou no processo de instauração da figura de Zumbi como símbolo da resistência dos afrodescendentes, em particular, e dos brasileiros, em geral, à opressão antiga e atual”. [1]
Com todas as suas possíveis contradições, a existência do Monumento a Zumbi naquela região do Rio de Janeiro é, inegavelmente, um elemento simbólico de grande importância na valorização das populações afrodescendentes. “Um monumento é um gesto de respeito materializado”, como escreveu Gerhard Schweppenhäuser, ao defender a construção do Monumento aos Judeus Assassinados da Europa, inaugurado em Berlim, em 2006, após um debate que se estendeu por mais de uma década. Vale ressaltar que a capacidade de um monumento produzir sentido deve-se, inicialmente, ao fato de ser desejado pela comunidade, e integrar uma cultura memorial que invista nas relações entre monumento, museu e historiografia; apenas assim, o monumento tem alguma chance de adquirir potência e tornar-se um bem público – pela contínua ressignificação de seus diversos elementos segundo as demandas do presente.
Neste sentido, o Monumento a Zumbi, na Praça Onze, tem seu valor simbólico reforçado, por uma série de fatores, como a lei que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras na educação básica, e por descobertas recentes na região próxima ao cais do porto do Rio de Janeiro, onde escavações trouxeram à tona o Cais de Valongo, ponto de entrada de cerca de um milhão de africanos escravizados no Rio de Janeiro e, também, o Cemitério dos Pretos Novos.
Em 1996, durante a reforma de uma casa na rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, os proprietários – o casal Ana Maria de la Merced Guimarães dos Anjos e Petrúcio dos Anjos – descobriram que a casa, recém-adquirida, fora construída sobre parte do terreno que, entre 1772 a 1830, foi o Cemitério dos Pretos Novos, dedicado aos africanos trazidos em navios negreiros e que morriam antes de serem comercializados como escravos. Os corpos eram enterrados em covas rasas, ou, mais exatamente, lançados “à flor da terra”, título do livro de Júlio César Medeiros Pereira, que investigou o aviltamento da morte perpetrado naquela região da cidade. Apesar dos registros da existência do cemitério, sua localização exata foi sendo convenientemente esquecida após seu fechamento em 1830 e, assim, com a urbanização progressiva do bairro, a presença do cemitério foi recalcada na memória da cidade, embora assombre a escrita de João do Rio no conto “As crianças que matam”: “A Rua da Gamboa é escura, cheia de pó, com um cemitério entre a casaria; a da Harmonia já se chamou do Cemitério, por ter aí existido a necrópole dos escravos vindos da costa da África; a da Saúde, cheia de trapiches, irradiando ruelas e becos, trepando morro acima os seus tentáculos, é o caminho do desespero (...)”.
A partir da “redescoberta” do cemitério, vemos um espaço privado – a casa de uma família de classe média brasileira – ser literalmente interceptada e desviada pela grande história comum. Não há exagero em afirmar que o chão da casa da família Guimarães dos Anjos literalmente cedeu com o lastro do passado. Creio que um dos aspectos mais interessantes na redescoberta do cemitério é justamente o atrito entre o espaço privado e o espaço público no endereçamento dessa memória. Ao ouvimos Merced Guimarães contar a história da descoberta do cemitério, não temos dúvidas que de que ela adquiriu – ou melhor conquistou – um poder arcôntico sobre aquela parcela da história da escravidão no Brasil. Seu poder não é investido pelos discursos e instituições oficiais da história e do patrimônio, mas por uma curiosa rede afetiva de transmissões. Ela é a guardiã daquele espaço que se abre como sítio arqueológico e ativa inúmeros arquivos de documentos, mas, também – ou sobretudo – a ausência deles, incontáveis vazios, além de saberes populares e tradições orais.
De volta às pichações no Monumento a Zumbi de Palmares, desnecessário lembrar o quanto esta é uma prática recorrente, que afeta diversos monumentos e patrimônios, no Rio de Janeiro e no mundo – sintoma notável das tensões que atravessam o espaço urbano. Um dos artistas que melhor compreendeu essa questão foi o alemão Jochen Gerz. Em parceria com Esther Shalev-Gerz, o artista realizou em Harburg (subúrbio de Hamburgo, Alemanha), um Monumento contra o facismo, que consistia em uma coluna de aço de 12 metros recoberta com uma película de chumbo, situada em um local de grande circulação de pedestres. Um texto próximo à coluna convidava os passantes a manifestarem-se contra as formas de fascismo, escrevendo seu nome ou o que desejassem com cinzéis. À medida que a superfície se recobria (de modo nada pacífico) com inscrições, a coluna era progressivamente enterrada no solo. Ao longo de sete anos, entre 1986 e 1993, a cidade conviveu com o monumento, ou melhor, com seu gradual desaparecimento. Ao fim e ao cabo, a coluna-palimpsesto tornou-se uma placa no solo. Apenas parte dela pode ser vista por uma abertura na passagem de pedestres, sobre a qual se erguia o bloco de aço. Os artistas reatualizaram assim a forma tradicional do obelisco, que em vez de dirigir-se ao alto, volta-se para baixo, encripta-se no solo.
Interessante notar que este monumento autoriza justamente uma prática próxima à pichação como uma forma de testemunho. Não apenas o cinzel previsto pelos artistas foi utilizado, mas também tinta spray, material característico da pichação e do grafite. Diante da coluna, é preciso afirmar que se esteve ali, deixar seu traço, sua marca pública. O que os artistas solicitam é um gesto de inscrição, de atrito, que requer agressividade, investimento físico. O monumento requisitava uma escritura pública feita de lesões e marcas agressivas, formando uma trama que termina por se tornar ilegível, trama palimpséstica, energia de-sublimatória que rebaixa a coluna e faz surgir o monumento.
O rebaixamento explícito do monumento – ou da coluna com vistas à transcendência – dependeu sempre de um investimento corporal dos passantes: estima-se que 60 mil pessoas deixaram ali marcas ao longo de sete anos (algumas suásticas inclusive). Escondida no solo – um buraco na cidade –, como comentaram alguns, a coluna carregada de pulsões, desejos e contra-desejos, é escondida e recalcada, assim demanda o discurso, faz falar sobre ela.
À luz do desaparecimento proposto pela obra de Esther Shalev-Gerz e Jochen Gerz, volto ao Monumento a Zumbi. Sua presença, tão carregada de signos contraditórios, ergue-se numa região continuamente remodelada ao longo dos anos por diferentes projetos urbanísticos que produziram remoções de diversas comunidades, violência, e sucessivas camadas de esquecimento. Não pretendo justificar as pichações ao Monumento a Zumbi ou qualquer outro, mas compreendê-las como respostas desastradas à invisibilidade e ao emudecimento dos monumentos. Em vez de uma limpeza institucionalizada e mecânica após cada pichação, poderíamos, quem sabe, viver performances coletivas de apagamento dos signos indesejados e que talvez, assim, desencadeassem novas experiências, sentidos e possíveis configurações para os desafios do “ser-em-comum”.
Rio de Janeiro, novembro de 2014
[1] Conduru. Roberto. Zumbi reinventado. In: Revista de história, Biblioteca Nacional, 9/9/2007. In: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/perspectiva/zumbi-reinventado